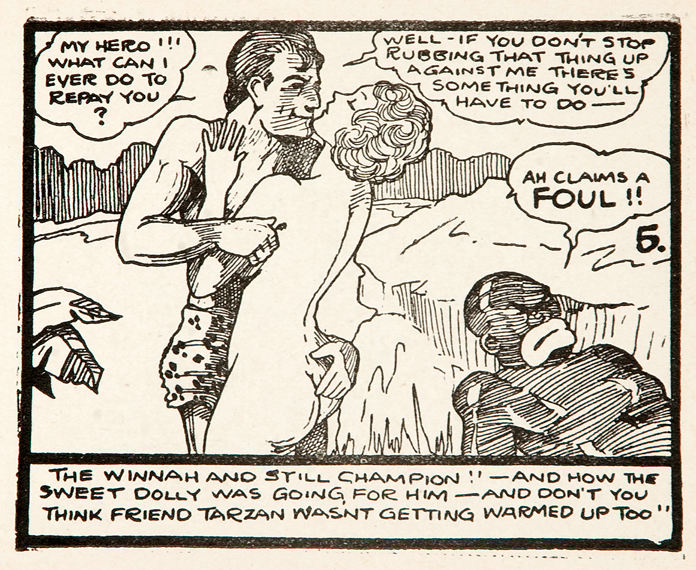O Edifício (1987)
domingo, 29 de setembro de 2019
sexta-feira, 27 de setembro de 2019
um rapaz e o seu cocker
Criados em 1959, pelo belga Jean Roba
(1930-2006), Boule e Bill, um rapazinho de sete anos e o seu cocker spaniel, são das personagens mais
populares da BD francófona. As camadas de ternura aplicadas por Roba em cada vinheta, recriando um
universo idílico numa família de classe média, com pais disponíveis, mesmo
quando têm de impor regras, à criança (os tpc) e ao animal (o banho…),
conjugadas com um humor por vezes desenfreado, foram ingredientes seguros desse
êxito. Para Roba, o mundo já era suficientemente agreste para que os seus gags
não permitissem essa distensão de humor sobre um tempo em que a vida é um
recreio permanente, mesmo com vacinas e banhos obrigatórios…
As personagens inspiraram-se no filho
do autor e no cão da casa, o que explica a quase beatítude que a leitura destas
pequenas histórias proporciona, na procura duma inocência que só existiu no
tempo em que os animais falavam. Numa entrevista a Hugues Dayez (Le Duel
Tintin-Spirou, 1997), Roba afirmou: «acredito que o homem, num passado
longínquo, pôde falar com os animais, e que esse privilégio foi-lhe subtraído.
É isso uma maldição? Creio que sim.» Por vezes, encontram-se pontos de contacto
com o Calvin de Bill Watterson. Bill
não fala, mas pensa, e em pensamento dirige-se a nós, leitores.
A dupla continua, pelas mãos do
francês Verron (Grenoble, 1962). Os álbuns de Boule e Bill estão inéditos em
Portugal.
Roba, 60 Gags de Boule et Bill
edição: Dupuis, Marcinelle, 1962
edição: Dupuis, Marcinelle, 1962
quinta-feira, 26 de setembro de 2019
Os derrotados da História
Pensar que em 1974 o país
estava num conflito militar com três frentes, perpetrando crimes de guerra em
nome de uma mentirola consubstanciada no slogan
“Portugal uno e indivisível, do Minho a Timor”, só não faz sorrir porque
muitas foram as vidas destruídas, portuguesas e africanas, em nome dessa
balela. No entanto, o tratamento dado aos ex-combatentes, que em nome deste
rudimento ideológico serviram de carne canhão, foi outra indignidade, aliás
muito portuguesa: varremos o que é incómodo para debaixo do tapete .
[Abre-se propositadamente um
parênteses sobre o debate em curso, a propósito da falsa questão dos
Descobrimentos: estes estão confinados aos séculos XIV e XVI; misturá-los com o
imperialismo do Euromundo é um anacronismo grosseiro e uma mistura de
conceitos. O século XV não é o século XIX.]
Mas há mais: africanos que
pegaram em armas contra os movimentos de libertação – e já estamos a entrar no
livro de hoje –, tiveram, muitos deles, um triste fim: Spínola, quando chega à
Guiné, em 1968, muda de táctica, envolvendo as populações e criando forças
africanas para combater o PAIGC, enquadradas pelas Forças Armadas – o velho
‘dividir para reinar’. Já era tarde, porém, tanto eticamente como do ponto de
vista estratégico e político, para os obstinados do Império, que aguardava
apenas uma rajada mais forte dos ventos da História para se escaqueirar.
BD que só sirva para dela
falar, não interessa, perdoe-se o lugar-comum. Filhos do Rato, de Luís Zhang (Lisboa, 1986) e Fábio Veras (Lisboa,
1997), é um óptimo exemplo do bom momento por que passa a BD portuguesa. Belo
texto (apesar de alguns anacronismos evitáveis…) para um dos dramas mais
pesados da nossa história recente. A acção decorre na Guiné em dois momentos –
Inverno de 1975, com um extenso flashback
para um período que antecede a independência, Verão de 1973 – e conta-nos da
amizade travada no mato por dois homens: Camões, um militar negro, e Joaquim,
soldado duma aldeia perdida em Trás-os-Montes, amizade que vai subsistir ainda
para além da morte. A certa altura da narrativa, uma ratazana é vista a comer
mantimentos no barracão do acampamento; atingida em cheio por uma lata de
conserva, foge e deixa no local embriões de ratos que serão esmagados, com
nojo. Uma metáfora para esses anos da guerra na Guiné: sabemos quem são os filhos do rato; e também o que
representa a ratazana. Para bom entendedor – é melhor confirmar pela leitura…
A opção da coexistência da
cor e do preto e branco na mesma prancha é muito interessante; e o desenho de
Fábio Veras, por vezes expressionista, passa ao papel, com o nervo intenso e
necessário, os momentos desesperantes do tédio de uma longa inacção na espera
do inimigo ou da ocorrência da emboscada, com a mata a ferro e fogo.
Sim, a BD é uma coisa séria.
Luís Zhang & Fábio Veras, Filhos do Rato
Edição: Comic Heart e G. Floy Studio, 2019
Edição: Comic Heart e G. Floy Studio, 2019
sábado, 21 de setembro de 2019
Spirou e Fantásio, por Émile Bravo
sexta-feira, 20 de setembro de 2019
História e BD
Os quase 900 anos de
História de Portugal são uma mina que a BD por cá aproveitou quase sempre para
obras de teor essencialmente didáctico, mas de pouco brilho narrativo. O que
não seria, se este filão fosse aproveitado por argumentistas da craveira de
Charlier, Greg ou Van Hamme, que por cá não houve, não se sabe bem porquê? Há
excepções, claro; e uma delas foi a do saudoso Jorge Magalhães (1938-2018), que
fez o que pôde. Em Giraldo o Sem Pavor (1986),
Magalhães deixa brilhar um talento com 20 anos, à data da elaboração destas
páginas: José Projecto (Évora, 1962), apregoado e evidente admirador de
desenhadores como Auclair, Rosinski e Segrelles.
Geraldo Geraldes, “o Sem
Pavor”, é uma dessas figuras reais cobertas pelo mito, uma das muitas
personagens dum passado a pedir autores. Cavaleiro nobre, mercenário, chefe de
salteadores, quando lhe convinha guerreava ao lado dos mouros contra os
cristãos como ele. Praticante do fossado, incursão relâmpago no reduto inimigo,
tinha, qual guerrilheiro, rectaguardas inexpugnáveis.
Estamos diante duma caça ao
homem: depois de matar um cavaleiro de D. Afonso Henriques, Geraldo é
perseguido até alcançar refúgio entre os sicários que comanda, não sem antes
pernoitar numa casa isolada, onde uma mulher o aguarda. Um pretexto para
desenhar cenas de combate, belas figuras humanas e animais de vário tipo, algo
que Projecto faz com verificável gosto e competência.
José Projecto & Jorge Magalhães, Giraldo o sem Pavor
José Projecto & Jorge Magalhães, Giraldo o sem Pavor
edição: Futura, Lisboa, 1986
Etiquetas:
Claude Auclair,
D. Afonso Henriques,
Geraldo Sem Pavor,
Greg,
Grzegorz Rosínski,
Jean Van Hamme,
Jean-Michel Charlier,
Jorge Magalhães,
José Projecto,
Leitor de BD-Jornal i,
Vicente Segrelles
quarta-feira, 18 de setembro de 2019
terça-feira, 17 de setembro de 2019
Riad Sattouf, O DIÁRIO DE ESTHER -- HISTÓRIAS DOS MEUS 10 ANOS (2016)
As
crianças estão na BD desde o princípio, e com momentos altos –
lembremos os Peanuts,
de Charles M. Schulz. Para o franco-sírio Riad Sattouf (Paris,
1978), criador do auto-referencial O Árabe do
Futuro (2014) e também realizador,
nomeadamente da excelente comédia Les Beaux
Gosses (2009), o mundo da infância e da
juventude é um tema persistente.
Cheia
de carisma e adorável criancice,
Esther, nascida nas
páginas do semanário L’Obs,
em 2015, não é só mais uma criança nos quadradinhos; antes da
personagem de papel, está Esther A., a menina de carne e osso,
informante e filha de amigos do autor. Todo o espanto, toda a
fantasia, todos os sonhos improváveis e todos os ‘amores’
impossíveis são maravilhosamente recriados por Sattouf: Esther tem
como grandes aspirações ser loura, famosa e possuir um ipad,
artefacto que o pai, um professor de ginástica com espírito
crítico, lhe nega, por evidente despropósito para quem ainda nem
completou os dez anos. Infelizmente para Esther, a maioria dos outros
progenitores não têm a mesma opinião. Um
pequeno apartamento, em que partilha o quarto com o irritante
António, o irmão de 14 anos, é o seu lar. A família, remediada,
completa-se com a mãe, empregada bancária e doméstica
em regime pós-laboral, por isso muitas vezes cansada, e a avó, cuja
casa na Bretanha é local de férias. Outro palco privilegiado é a
escola, em especial o recreio. Esther tem duas amigas dilectas:
Eugénia, criança rica e por vezes pretensiosa, e Cassandra, menina
negra cujo pai certo dia partiu para não mais voltar.
As
circunstâncias da série são as expectáveis: a recriação
recorrente dos maneirismos dos adultos, a relutância pelas
grosserias dos rapazes, cuja missão parece ser a de maçá-las com o
seu gozo e a sua má-criação – se bem que por vezes haja qualquer
coisa que as desperta. Introduzido com leveza
e sempre a propósito pelo autor, a incompreensão do vasto mundo
adulto da política, as manifestações incipientes de discriminação
social e racial, que ainda não assimilam inteiramente, e as questões
de género são alguns tópicos obrigatórios. Esther, contudo, não
é a Mafalda do Quino,
contestatária no
seio de uma família conformista, que muitas vezes parece uma mulher
pequena; Esther é sempre criança (o gag
sobre o atentado ao Charlie Hebdo é
um bom exemplo). A série acompanhará o crescimento da miúda, pelo
que teremos oportunidade de assistir à evolução desta família.
Organizado
graficamente sob a forma de gag
(história humorística de uma prancha), dividido em duas páginas, o
livro tem o formato de uma edição de tiras de BD. O texto, além de
reproduzir as falas das personagens em filacteras (os ‘balões’),
é acrescentado por geniais comentários de Esther em cursivo, que
acentuam o tom humorístico.
domingo, 15 de setembro de 2019
quinta-feira, 12 de setembro de 2019
oh as casas
A nossa
casa é, idealmente, o lugar por excelência onde melhor nos
sentimos, refúgio, castelo, recinto privilegiado em que assistimos
ao desenrolar das vidas dos que nos são próximos. Um edifício
abandonado ou em ruínas confronta-nos desapiedadamente com vida
vivida, para sempre desaparecida ali e, por consequência, com a
melancolia da finitude. É sobre isto que nos fala The
Building (O Edifício,
na tradução brasileira), de Will Eisner (1917-2005), dos autores
mais talentosos que a BD já conheceu, criador do Spirit,
e um dos pioneiros da graphic novel.
O
Edifício é uma história sobre um prédio
nova-iorquino situado no cruzamento de duas avenidas, que albergou
dezenas de famílias e indivíduos ao longo de décadas, silenciosa
testemunha de outras tantas existências. Uma epígrafe inicial de
John Ruskin, dá o tom: «Os edifícios antigos não nos pertencem.
Em parte são propriedade daqueles que os construíram; em parte das
gerações que estão por vir. Os mortos ainda têm direitos sobre
eles: aquilo por que se empenharam não cabe a nós tomar.»
Com o
desenho singular que o caracteriza, o tratamento opulento da prancha
como vinheta isolada ou superfície única para várias vinhetas, com
sem cercadura, Eisner consegue o pleno na arte combinatória da
novela gráfica.
Will Eisner, O Edifício
Will Eisner, O Edifício
Editora Abril, São
Paulo, 1987
quarta-feira, 11 de setembro de 2019
Emile Bravo, L'ESPOIR MALGRÉ TOUT - vol. 1: negrume na linha clara
Depois de Tintin, o outro
grande ícone belga da BD é Spirou, um adolescente, groom do Moustic
Hotel. Criado em 1938 por Rob Vel (1909-1991), para a revista que
leva o seu nome e ainda hoje se publica, tem pontos de contacto com a
personagem de Hergé: jovens que vão amadurecendo
imperceptivelmente, guiados por um sentido de justiça e pelo
companheirismo. Há uma mascote, o esquilo Spip; um amigo dilecto,
Fantásio, jornalista; um sábio, o conde de Champignac; só não há
Dupond & Dupont, mas em contrapartida uma criatura igualmente
esquipática: o Marsupilami. Enquanto Tintin, porém, não teve
continuidade, por vontade de Hergé, para Spirou trabalharam muitos
artistas, sendo o mais notável André Franquin (1924-1997). A série
foi, entretanto, confiada a diversos autores; um deles, Émile Bravo
(Paris, 1964), tem em curso de publicação uma extensa narrativa de
quatro tomos, L’Espoir Malgré Tout / A Esperança Apesar de
Tudo, continuando a inicial e brilhante incursão do autor nas
aventuras do nosso herói, em Le Journal d’un Ingénu
(2008).
O
primeiro volume, Un Mauvais Départ, coloca-nos em Bruxelas,
em Janeiro de 1940, meses antes da invasão da Bélgica. Spirou,
muito novo, mas com uma experiência de vida difícil é uma
personalidade forte, com dúvidas, paixões e uma candura própria da
idade, contornada pela inteligência. Um dos motores da narrativa é
a sua paixão por uma jovem comunista judia-alemã, do Komintern, de
quem recebe uma carta inquietante – a História a desenrolar-se ao
lado da vida, e a colher as suas vítimas.
Se
Spirou representa a ética em tempos bárbaros, Fantásio aparece-nos
como um indiferente e apatetado homem da rua, o que significa
uma desvalorização da personagem como a conhecíamos. O jornalista
originalmente é um obsessivo hiperactivo, o complemento de Spirou,
tal como Haddock o é de Tintin; mas como Bravo de alguma forma
refunda a série, é possível que Fantásio evolua com as provações
da guerra. A trama é, de resto, muito rica e claramente escrita para
os confusos dias de hoje.
Bravo
tinha duas dificuldades de monta nesta abordagem vincadamente
autoral: a primeira é a de se defrontar com um clássico; a outra, a
compatibilização do fundo humorístico de Spirou com refugiados de
guerra e crianças com fome. O que pareceria uma missão impossível,
é plenamente conseguido, à custa, claro, do pobre Fantásio, a que
se juntam, hilariantes, separatistas flamengos, vizinhos franceses,
escuteiros católicos, colaboracionistas… – estes geralmente
representados em tom cinzento, enquanto os nazis estão de negro
carregado, em (im)pura linha clara.
L’Espoir
Malgré Tout – vol. I
Texto
e desenho: Émile Bravo.
Dupuis,
Bruxelas, 2018
terça-feira, 10 de setembro de 2019
a poesia dos quadradinhos - #7 José Emílio-Nelson
«[...] E sentes-te Tarzan, quando sentes / Na bunda as bolas de outro que se esfalfa. / E não tem nada a ver com Banda Desenhada.»
José Emílio-Nelson, A Festa do Asno, s.l., Editora Canto Escuro, 2005.
quinta-feira, 5 de setembro de 2019
BDteca: Alan Moore & Brian Bolland, BATMAN -- A PIADA MORTAL (1988): cara e coroa
Batman
pertence a esse universo, mas tal como os seus colegas mais interessantes
(Fantasma, Homem-Aranha, Demolidor) é demasiado humano. Em A Piada Mortal / The Killing Joke (1988), Alan Moore foge ao modelo
maniqueísta do herói vs. vilão: o Joker, arqui-inimigo e personagem central
desta história, ganha o estatuto de uma espécie de duplo do homem-morcego, cara e coroa de uma mesma moeda. Narrativa
impecável, flui em dois planos: o da actualidade – a fuga do Asilo Arkham e a
perseguição levada a cabo pelo caped
crusader, em que o Joker faz todo o mal para ser encontrado; e uma acção
pretérita que nos conta a origem do criminoso, presenciada pelo Batman. À
subtileza do argumento junta-se o desenho superlativo de Brian Bolland: nunca o
Joker pareceu tão horrível e tão frágil; e o Batman, saído há 80 anos do lápis
de Bob Kane, está terrivelmente espectral, ao nível dos melhores artistas que o
serviram, a começar por Neal Adams. (Editora Abril,
São Paulo, 1988.)
quarta-feira, 4 de setembro de 2019
José Carlos Fernandes & Roberto Gomes, MAR DE ARAL (2019): notícia do mar desértico
Outrora um dos maiores lagos do mundo,
situado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, o recuo do Mar de Aral é
considerado uma das maiores tragédias ecológicas da nossa época. Consequência
de políticas desenvolvimentistas erradas, para cuja concretização foram
desviados os seus rios afluentes, a região envolvente é hoje descrita pelos
autóctones como o deserto de Aral… É
neste cenário que José Carlos Fernandes (Loulé, 1964) e Roberto Gomes (Silves,
1983) desenvolvem, a primeira história deste álbum, que lhe dá também o título:
«Mar de Aral».
A capa é magnífica. Apresenta uma figura
misteriosamente suspensa na âncora de um navio, imagem cujo significado só
apreenderemos em todo o seu alcance depois de lida esta narrativa. As palavras
de José Carlos Fernandes ganham um encantamento poético à medida da desolação
que se nos depara: «O mar fugiu como um cavalo assustado. / O mar fugiu e
deixou atrás de si barcos ferrugentos, planícies de sal e aldeias piscatórias
encalhadas na areia.» Mas como estamos no domínio do fantástico, o argumento
desenvolve-se em torno dos estratagemas de sobrevivência dos peixes desse
habitat.
O desenho faz jus ao que a capa nos promete;
a disposição das vinhetas realça os grandes espaços de solidão e abandono
(notável a página dupla em que se representa a fímbria que une mar e deserto);
nas cores, predominam o castanho, o sépia e os tons arenosos, contrastantes com
as três pranchas finais, quando a acção passa a desenrolar-se numa viela
nocturna de cidade velha, nas proximidades, carregando de negro a atmosfera de
estranhamento que até aqui a narrativa nos transmitira.
É a mais extensa de cinco ficções inauditas,
e a que de longe se destaca, mas todas se recomendam: do tom paródico de «Um
boi sobre o telhado» e «Roupas de defunto», à melancolia de «A inauguração do
Canal do Panamá» e «A arte esquecida de nadar rio acima».
Para não destoar, as notas biográficas dos
autores participam da irrealidade geral: José Carlos Fernandes aparece
identificado como um misterioso cientista cuja vida decorreu entre 1891 e 1938.
Entusiasta da Revolução Russa de 1917, transfere-se para a pátria soviética,
alterando o nome para Osip Ernantzev. A acreditar no biografema, e para sermos
eufemísticos, não foi propriamente bem sucedido. Quanto a Roberto Gomes, é
apresentado ao leitor como um peixe do Mar de Aral, «que escapou por pouco a
ser transformado em suchi».
Mar de Aral
argumento:
José Carlos Fernandes
desenhos:
Roberto Gomes
G.
Floy Studio e Comic Heart, 2019
terça-feira, 3 de setembro de 2019
uma vinheta de Brian Bolland
Subscrever:
Mensagens (Atom)